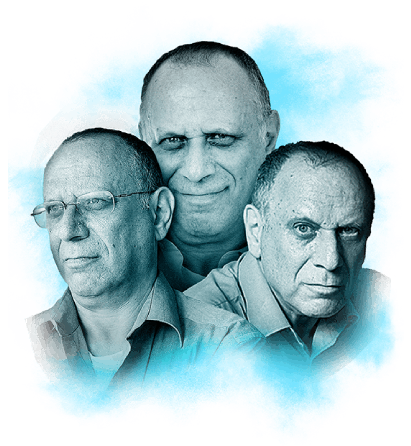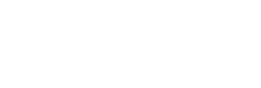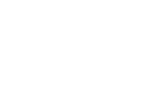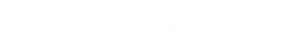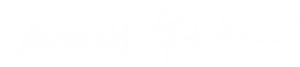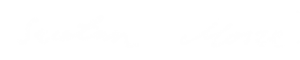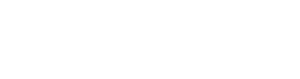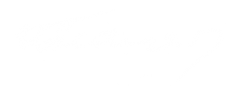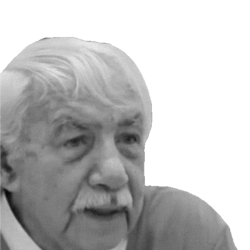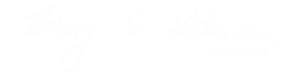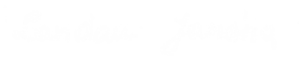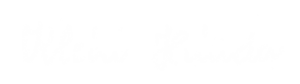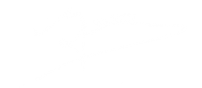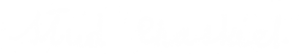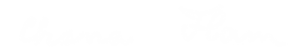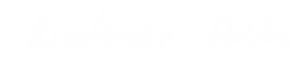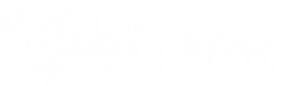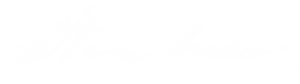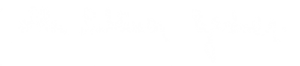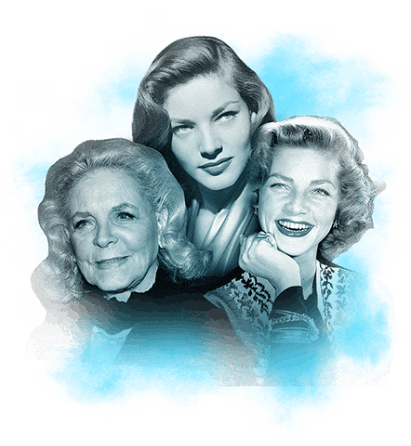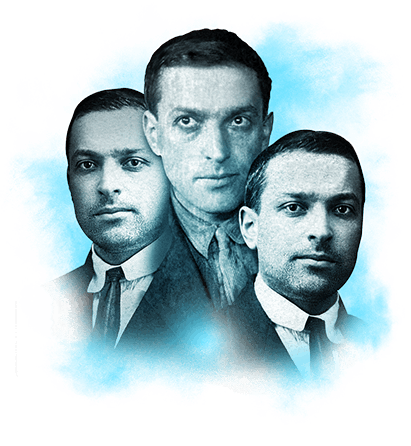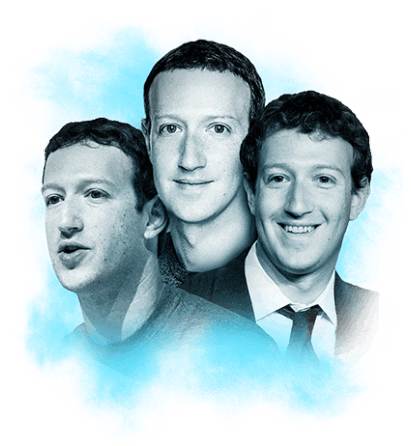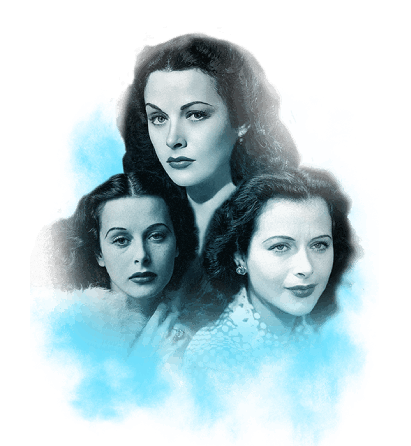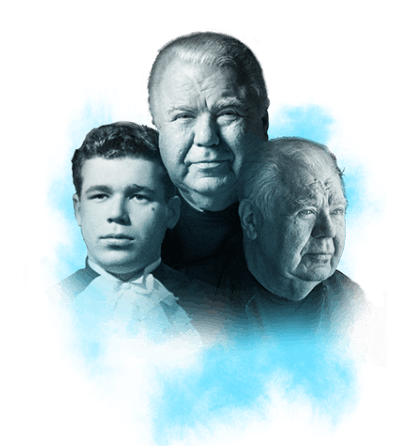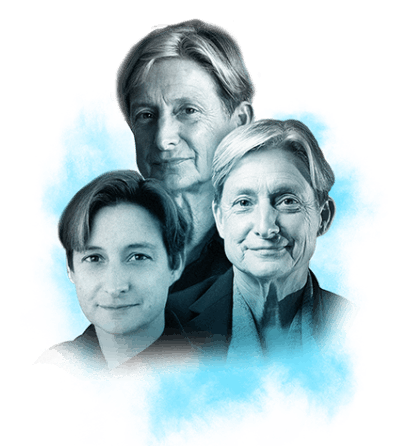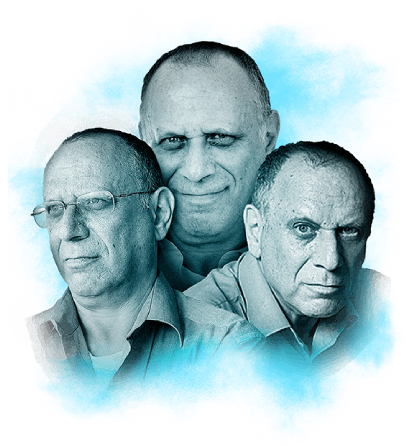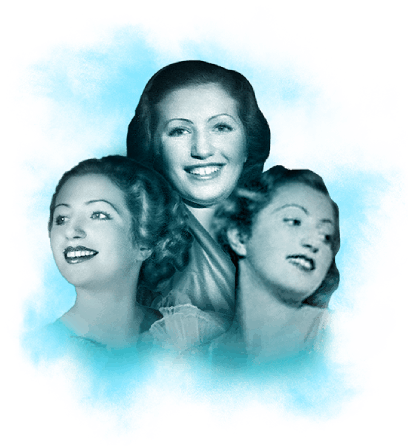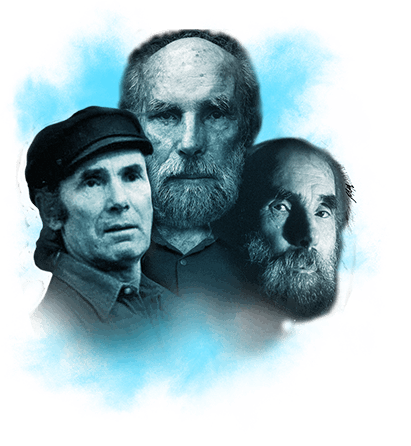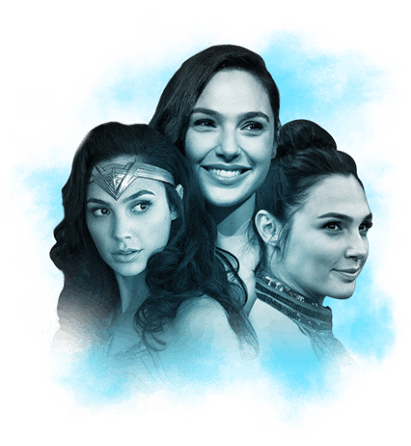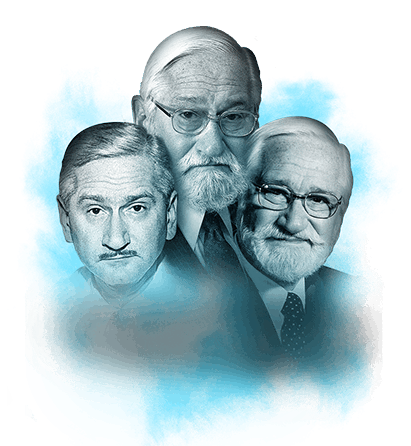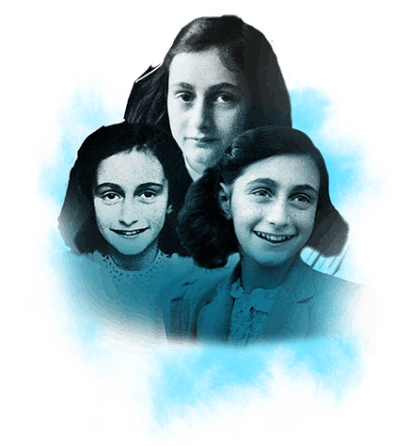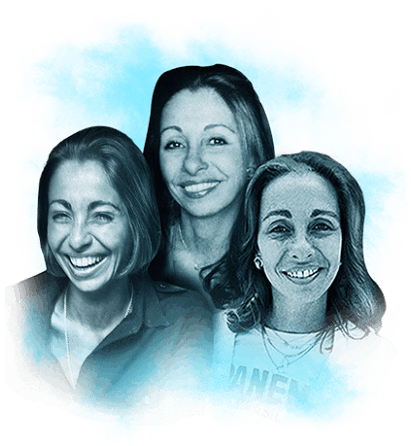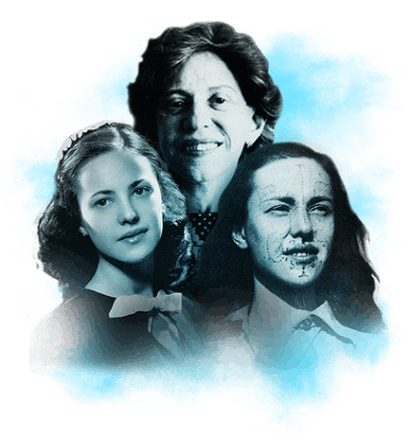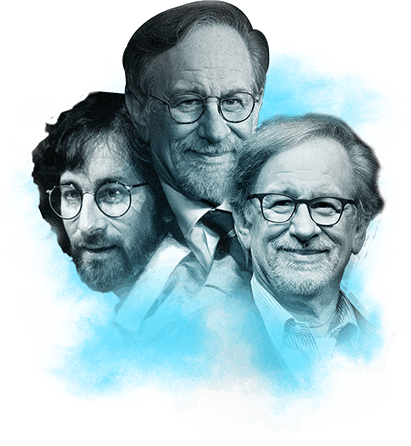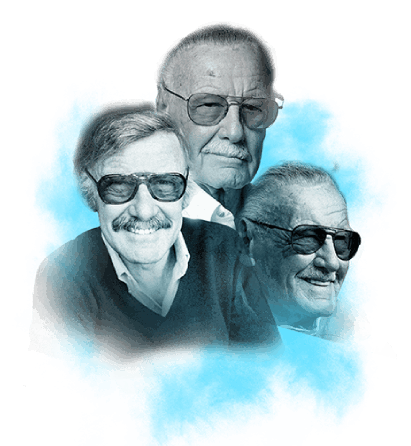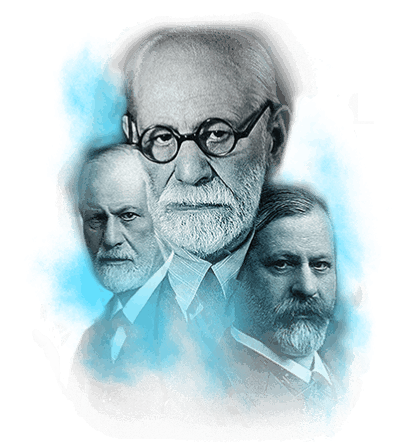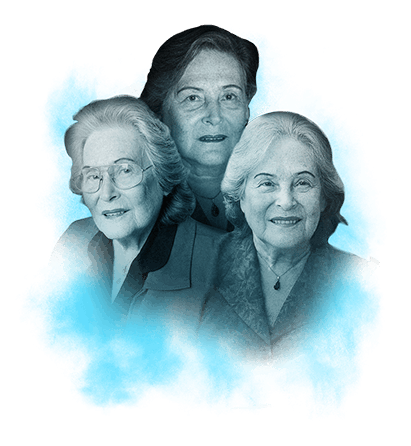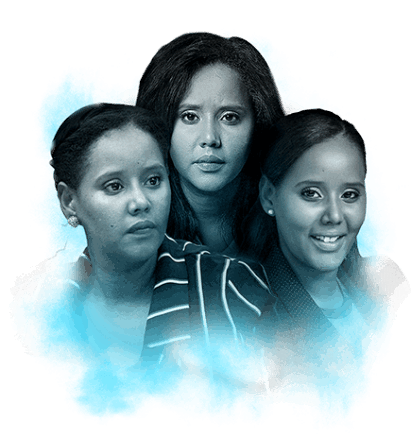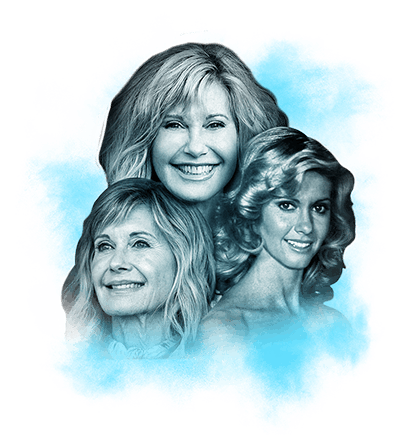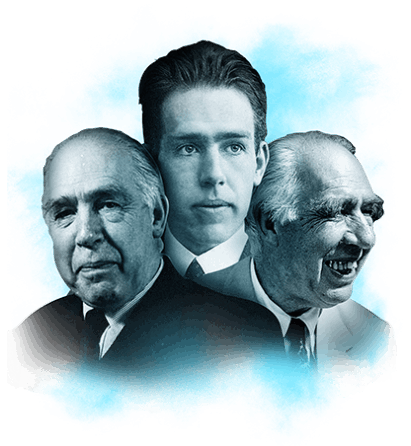FAQ
No esforço de explicar o que parece inimaginável, é comum surgirem explicações com enfoque místico ou a-histórico, que tratam o Holocausto como inexplicável e incompreensível. No entanto, desde o fim da 2ª Guerra Mundial, historiadores e pesquisadores, bem como profissionais de outras especialidades, elaboram explicações racionais, já que o Holocausto é um fato histórico e humano. Podemos estudá-lo, compreendê-lo e utilizá-lo como advertência.
A Shoá é transmitida como um exemplo extremo de intolerância, ódio, preconceito e racismo. Suas lições de vida proporcionam uma consciência ética que aponta a necessidade de não esquecermos essas histórias, de lutarmos diariamente contra qualquer tipo de discriminação e para que barbáries como o extermínio humano jamais voltem a acontecer com qualquer povo, nação ou etnia.
Para saber mais:
GILBERT, Martin. O Holocausto: História dos Judeus na Europa na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Editora Hucitec, 2010.
GUTMAN, Israel. Holocausto y Memoria. Jerusalem: Yad Vashem, 2003.
HILBERG, Raul. A destruição dos judeus europeus. São Paulo: Amarlys, 2016.
O termo Holocausto deriva do grego antigo e se refere a um sacrifício ou oferenda com fogo. Ainda que amplamente difundido pelo grande público, o termo pode ser problemático, pois confere um caráter voluntário e passivo para a morte, além da ameaça de sacralizar e mitificar o acontecimento histórico.
Shoá é uma palavra advinda do idioma hebraico, com significado próximo a uma catástrofe humana e, por isso, muitas vezes escolhida como termo mais apropriado, pois evita o caráter sacrificial e voluntário de “Holocausto”. Ela possui sua raiz bíblica no termo “shoah u-meshoah” (devastação e desolação) que aparece tanto no Livro de Sofonias (1:15) quanto no Livro de Jó (30:3). Além disso, a palavra Holocausto já era utilizada anteriormente no sentido de um extermínio genérico; assim, o termo Shoá seria preferível para se referir especificamente ao genocídio cometido pelos nazistas e seus colaboradores.
Shoá se tornou um termo mais empregado por instituições judaicas, ligadas às vítimas ou à transmissão de sua memória. O termo “Holocausto” não é, entretanto, incorreto. Ele é, inclusive, utilizado com frequência por essas mesmas instituições, por ser mais conhecido.
Para saber mais:
DANZIGER, Leila. Shoah ou Holocausto: a aporia dos nomes. Arquivo Maaravi: Revista digital de estudos judaicos da UFMG, v. 1, n.1, pp 50-58, 2007.
LERNER, Kátia. Coleção e sistemas classificatórios: refletindo sobre a categoria “Holocausto”. Morpheus – Revista Eletrônica em Ciências Humanas, Rio de Janeiro, ano 2, n. 3, 2003.
NIEWYK, Donald L.; NICOSIA, Francis R. The Columbia Guide to the Holocaust. Columbia University Press, 2000.
Assim, para os judeus alemães, o Holocausto começou em 30 de janeiro de 1933, quando Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha e o NSDAP (vide pergunta 7) passou a criar políticas públicas voltadas à discriminação. Para uma pessoa, a título de exemplo, na Bélgica, por outro lado, o Holocausto não começou antes de 1940, com a invasão desse país pela Alemanha nazista. O mesmo raciocínio é válido para o término. Para um prisioneiro do campo de extermínio de Majdanek, por exemplo, o Holocausto terminou em julho de 1944, com a chegada das tropas soviéticas, enquanto para um judeu que estivesse escondido em Berlim, o Holocausto só terminaria em 2 de maio de 1945.
Desta forma, é possível falar temporalmente do Holocausto no intervalo máximo de janeiro de 1933 a maio de 1945, mas a duração exata depende da trajetória específica de cada uma das pessoas perseguidas.
Há aspectos inéditos do Holocausto em relação a outros genocídios, em especial seu caráter de pretensão global e total, além do fato de ser, para os nazistas, um fim em si mesmo e não um instrumento ou consequência para ou de algo. Ao mesmo tempo, isso não impede que sejam traçados paralelos e analogias com outros acontecimentos históricos anteriores ou posteriores, desde que seguidos critérios metodológicos.
Isso é especialmente relevante quando se leva em conta que o Holocausto, assim como outros genocídios, é resultado de um processo, uma reunião singular de fatores que, isoladamente, são infelizmente corriqueiros. A Shoá se iniciou com pequenos atos e ideias que ainda hoje assombram o mundo, independentemente de quem sejam os perpetradores e as vítimas; e rememorar a Shoá deve servir para combater esses males. Fosse o Holocausto um evento sem relação, paralelos ou comparação com outros acontecimentos, sua memória seria estéril, servindo somente como homenagem aos que a vivenciaram, de forma sacralizada e ritualística, e não como ponto de partida para a ação de transformação no mundo presente.
Assim, é possível afirmar tanto a singularidade quanto o ineditismo do Holocausto, sem isolá-lo da História, e ao mesmo tempo compará-lo a outros acontecimentos, sem vulgarizá-lo.
Para saber mais:
BAUER, Yehuda. Reflexiones sobre el Holocausto. Jersusalém: EDZ Nativ Ediciones, 2013.
FEIERSTEIN, Daniel. El genocídio como práctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.
REISS, Carlos. Luz sobre o caos: educação e memória do Holocausto. Rio de Janeiro: Imprimatur, 2018.
Na Europa central e ocidental, os judeus eram uma minoria integrada à sociedade local. Emancipados, ou seja, ao menos formalmente com os mesmos direitos que qualquer outro cidadão, os judeus eram partícipes da vida social e, sem necessariamente abandonar suas tradições, assimilavam costumes e culturas dos locais onde viviam. A maioria dos judeus desses países constituía uma classe média urbana.
No Leste Europeu, onde viviam aproximadamente 80% dos judeus europeus, por outro lado, a integração social enfrentava maiores obstáculos. Em muitos países, a cidadania fora concedida tardiamente aos judeus, que ainda enfrentavam intenso e violento antissemitismo, fragilidade econômica e viviam em relativo grau de isolamento, mesmo quando em grandes centros urbanos e sobretudo nas pequenas aldeias, chamadas shtetls em iídiche. O uso desse idioma também é uma característica dos judeus do Leste europeu, em contraste aos da Europa Ocidental e Central, que em geral tinham, no início do século XX, o idioma de seu país como língua materna.
Para saber mais:
Enciclopédia do Holocausto – United States Holocaust Memorial Museum - https://encyclopedia.ushmm.org/pt-br
MACARDLE, Meredith MacArdle. A História da Civilização Judaica. M.Books; 1ª edição, 2021.
Jewish Virtual Library - https://www.jewishvirtuallibrary.org/
Os judeus alemães, tal como na maior parte da Europa Central e Ocidental, pertenciam, em geral, às classes médias urbanas. Em sua maioria, tinham razoável acesso à instrução formal e podiam proporcionar-se estilos de vida minimamente confortáveis. Porém, somente uma minoria pertencia à alta elite econômica (assim como havia judeus mais pobres). Nos países do Leste Europeu, onde a população judaica era bem maior, grande parte dos judeus vivia em condições muito mais precárias economicamente.
Este mito do poderio econômico judaico é muito anterior ao nazismo. O personagem Shylock da peça “O mercador de Veneza”, de William Shakespeare, demonstra que o estereótipo do judeu usurário e avarento já era parte do senso comum desde o século XVI. No século XIX, esta alegoria falsa ganharia uma nova dimensão, com os judeus sendo associados à riqueza, à ganância, às grandes corporações e, no limite, a planos de dominação internacional, por exemplo, em livros apócrifos como “Os protocolos dos Sábios de Sião”. Paradoxalmente, esses mesmos antissemitas também podiam acusar os judeus de estarem por trás de movimentos de contestação social, como o comunismo. Os nazistas se valeram dessa acusação antissemita, que persiste ainda hoje, para difamar os judeus.
Para saber mais:
ATTALI, Jacques. Os judeus, o dinheiro e o mundo. São Paulo: Futura, 2008.
FRIEDLÄNDER, Saul. A Alemanha nazista e os judeus, volume I: Os anos da perseguição, 1933-1939. São Paulo: Perspectiva, 2012.
RITSCHL, Albert. Fiscal destruction: Confiscatory taxation of Jewish property and income in Nazi Germany. Disponível em: https://voxeu.org/article/confiscatory-taxation-jewish-property-and-income-nazi-germany Acesso em 03/11/2020
Para os nazistas, a redenção da Alemanha viria por meio da regeneração e purificação racial do que chamavam de “raça ariana”, cuja missão seria comandar a marcha da humanidade. Para tal, seria preciso estar livre da influência do que chamavam de raças inferiores, sobretudo judeus (mas também povos ciganos, negros, eslavos) e de grupos considerados inimigos ou degenerados, como comunistas, pessoas com deficiências e homossexuais.
Em fevereiro de 1920, o partido apresentou seu programa de 25 pontos, um manifesto genérico de princípios. Em 1923, já sob a liderança de Adolf Hitler, tentaram um golpe de Estado, que fracassou. Até fins da década de 1920, o nazismo era um partido pequeno e inexpressivo eleitoralmente. Essa situação mudou com a crise econômica de 1929 e a instabilidade política da república de Weimar, alçando o partido nazista ao poder na Alemanha em janeiro de 1933 (vide pergunta 13).
Para saber mais:
EVANS, Richard J. A chegada do Terceiro Reich. São Paulo: Editora Planeta, 2010.
KERSHAW, Ian. Hitler. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
PAXTON, Robert O. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
O fascismo se insere em um contexto de ressentimento por derrotas militares, modernização excludente e democracias frágeis. Em diversos países, surgiram no período entre as duas guerras mundiais movimentos que podem ser caracterizados como fascistas. Alguns jamais passaram de pequenas células extremistas, enquanto outros chegaram ao poder.
Há autores que argumentam ser o nazismo um caso absolutamente particular. Mas para boa parte da historiografia, o nazismo foi a forma mais extremada de fascismo; o que não significa negar suas particularidades, como a maior centralidade do racismo (sobretudo contra judeus), o culto ao Volk na Alemanha (enquanto ao Estado na Itália), e a dimensão muito maior do genocídio perpetrado pelos nazistas.
No entanto, o nazismo e o fascismo italiano compartilham muitas características. Em termos de contexto, aspectos como a crise do pós-1ª Guerra Mundial, o ressentimento pelo atraso na corrida imperialista, a unificação recente, a democracia frágil e a industrialização tardia. Como regime político, compartilham o nacionalismo chauvinista com tendências expansionistas, o anticomunismo, o antiliberalismo, o ideal de ordem social, o autoritarismo, o corporativismo, o partido de massas (e ao mesmo tempo as alianças desconfortáveis, mas eficientes, com as elites), o militarismo e a legitimação da violência como prática política contra os “inimigos”, raciais ou políticos.
Para saber mais:
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Brasília: Editora da UnB, 1998.
KERSHAW, Ian. The nazi dictatorship: problems and perspectives of interpretation. London: Bloomsbury, 2015.
PAXTON, Robert O. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
O nazismo pode ser caracterizado como de extrema-direita pois, enquanto as esquerdas enxergam as desigualdades como um problema causado pela sociedade e que deveria ser minimizado ou anulado, o nazismo não só não vê as desigualdades como um problema, como as naturaliza em termos raciais e nacionais. Enquanto a esquerda enfatizava os interesses de classe, os nazistas buscavam apaziguar conflitos de classe por meio de uma união nacional-racial.
Quando surgiu, havia setores do partido nazista que advogavam, além do anticomunismo, um anticapitalismo. Essa vertente foi praticamente eliminada na Noite das Facas Longas, em 1934. O anticapitalismo nazista se voltava contra o estilo de vida burguês, visto como acomodado, antipatriótico e judaico, e menos contra a função socioeconômica da burguesia. Esse anticapitalismo nazista não visava, portanto, a superação do capitalismo, mas sim sua reversão. Admitia-se o uso de recursos modernos, como a indústria ou a política de massas, mas tendo por objetivo o retorno a um passado idealizado, com uma sociedade radicalmente ordenada e hierarquizada, em uma espécie de utopia reacionária.
O uso de retórica e símbolos de esquerda pelos nazistas visava um apelo popular que afastasse os trabalhadores dos partidos de esquerda, sobretudo o comunista, visto como seu grande inimigo político. O Estado corporativo dos fascismos – que não é um Estado Mínimo, denotando seu antiliberalismo – também está distante de um Estado socialista, já que sua função não era reduzir as desigualdades e aumentar o poder da classe trabalhadora, muito menos atacar a propriedade privada dos meios de produção. Pelo contrário, era controlar os trabalhadores e acabar com a autonomia do movimento operário. Para chegar e se manter no poder, o partido nazista recebeu apoio – mesmo que desconfortável – das elites econômicas alemãs, que o viam como um meio de esmagar as esquerdas.
Cabe lembrar que esquerda e direita são termos que só fazem sentido um em relação ao outro. Eles são contextuais e plurais. No entanto, a caracterização do nazismo na extrema-direita do espectro político, como demonstra a historiografia, não associa automaticamente qualquer movimento de direita ao nazismo.
Para saber mais:
BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política. São Paulo: Editora Unesp, 1995.
KERSHAW, Ian. The nazi dictatorship: problems and perspectives of interpretation. London: Bloomsbury, 2015.
PAXTON, Robert O. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
O Brasil teve o maior número de filiados dentre esse total de países, chegando a 2.900 membros entre os anos de 1928 (portanto, antes da chegada do NSDAP ao poder na Alemanha) e 1938. Apesar do maior número absoluto, é importante destacar que isso representava somente cerca de 4% dos cidadãos alemães residentes no Brasil de então.
As atividades nazistas em território brasileiro foram coordenadas pela embaixada alemã no Rio de Janeiro e pelos consulados, especialmente os de Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Os agentes do partido tiveram à sua disposição diversos organismos e associações criados pelo NSDAP, que permitiram uma propaganda intensa e a infiltração de pessoas nas principais sociedades recreativas e culturais, além das escolas germânico-brasileiras.
Somente depois de dez anos, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, a existência do partido entrou em confronto com as diretrizes nacionais que proibiam as atividades políticas estrangeiras, fazendo com que fosse investigado e posteriormente proibido.
Para saber mais:
DIETRICH, Ana Maria. Nazismo tropical? O partido Nazista no Brasil. 2007. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. doi:10.11606/T.8.2007.tde-10072007-113709.
LUCAS, Taís Campelo. Nazistas longe de Hitler: o Partido Nazista no Brasil. (Artigo) In: Café História – história feita com cliques. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/o-partido-nazista-no-brasil/. Publicado em: 20 mai. 2019.
PERAZZO, Priscila Ferreira. O perigo alemão e a repressão policial no Estado Novo. São Paulo: Arquivo do Estado, 1999.
Judeus e comunistas representavam papeis especiais de inimigos explícitos na ideologia nazista. O comunismo era encarado pelos nazistas como o grande mal político, com o qual não haveria qualquer margem de negociação e que deveria ser extirpado. Já os judeus representavam, na mente dos nazistas, um perigo à pureza racial ariana, seriam os culpados pelos problemas do país e teriam planos malignos de dominação mundial (vide pergunta 12) – o que, na ótica nazista, justificou serem estes os alvos prioritários do plano de genocídio.
Outras populações também foram alvo de discriminação, perseguição e extermínio, embora pudesse haver particularidades e diferenças (vide pergunta 45), em especial povos ciganos roma e sinti, população negra, pessoas com deficiência ou transtornos mentais, poloneses, eslavos, testemunhas de Jeová, homossexuais, anarquistas, socialistas, chineses, maçons, opositores políticos em geral e prisioneiros de guerra, sobretudo soviéticos.
Para saber mais:
EVANS, Richard. O terceiro Reich no poder. São Paulo: Planeta, 2014.
GILBERT, Martin. O Holocausto: história dos judeus da Europa na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Editora HUCITEC, 2010.
REES, Laurence. O Holocausto: uma nova história. São Paulo: Vestígio, 2018.
Com a ascensão dos nacionalismos no século XIX, esse sentimento alimentou a xenofobia e o ódio étnico em muitos países. Grupos minoritários, de origem e culturas diversas daquilo que tentava se normatizar como nacional, passaram a ser alvo de discriminação. E os judeus podiam ser encaixados nesses critérios, mesmo que vivessem naqueles países há séculos. Para muitos europeus do século XIX e início do XX, os judeus também representavam os males da modernidade (como o cosmopolitismo e a urbanização).
Os nazistas ainda se valeram de outras ideias surgidas no século XIX, como a eugenia e o racismo científico, que defendiam a existência de raças superiores e denunciavam a miscigenação como causa de uma suposta degeneração racial. Antes deles, e não somente na Alemanha, já havia quem dissesse que os judeus seriam uma raça inferior e especialmente perigosa, uma vez que não há traços físicos judaicos.
No entreguerras, em que muitos alemães ansiavam por explicações simples e evidentes culpados para a derrota militar e os problemas econômicos, culpar os judeus, tal como fizeram os nazistas, não exigia grande esforço, dado esse imaginário popular e o contexto propício.
Para saber mais:
HILBERG, Raul. A destruição dos judeus europeus. São Paulo: Amarlys, 2016.
BAUER, Yehuda. Reflexiones sobre el Holocausto. Jerusalém: EDZ Nativ Ediciones, 2013.
ENRIQUEZ, Eugene. O anti-semitismo nazista. In: ENRIQUEZ, Eugene. Da Horda ao Estado: Psicanálise do vínculo social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
O nazismo se valeu do desespero de grande parte da população para dar explicações fáceis e reconfortantes para os problemas, apontar culpados (principalmente judeus) e apelar para a união nacional. Diante da percepção de caos social e da crise de legitimidade dos partidos tradicionais, percebendo que o partido ganhava popularidade a partir da crise de 1929, as elites econômicas passaram também a costurar alianças com os nazistas, que se apresentavam como os únicos capazes de fazer frente ao comunismo.
Como resultado, a votação do partido nazista, que em 1928 era de somente 2,6%, aumentou para 18,3% dos votos nas eleições legislativas de somente dois anos depois, alçando-o ao segundo partido mais votado da Alemanha. Em 1932, o partido dobrou sua votação e se tornou o maior do parlamento alemão. No início de 1933, Adolf Hitler seria chamado a exercer o cargo de chanceler – após outra eleição na qual o NSDAP fora o mais votado, com aproximadamente um terço dos votos. Assim, o nazismo, embora não tenha obtido maioria absoluta dos votos, chegou ao poder por meio do da legalidade institucional, mesmo não escondendo sua intenção de acabar com as instituições republicanas.
Nos meses seguintes, o NSDAP proibiu gradualmente todos os outros, de modo a se tornar o partido único e instaurar definitivamente uma ditadura a qual já não se submeteria ao crivo do voto ou dos ritos do Estado de direito. O incêndio do parlamento alemão, em 1933, serviu de pretexto para a repressão, o cancelamento de eleições e o fechamento do regime sob a justificativa de combater uma suposta ameaça comunista. Com a morte do presidente Hindenburg, em 1934, os cargos de chanceler e presidente da Alemanha foram unificados na figura de Hitler. Qualquer contestação ao partido pelas instituições foi impossibilitada.
Para saber mais:
EVANS, Richard J. A chegada do Terceiro Reich. São Paulo: Editora Planeta, 2010.
KERSHAW, Ian. Hitler. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
PAXTON, Robert O. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
Um mecanismo importante foi a propaganda em jornais, cartazes, rádio e filmes que exaltava o regime, a pretensa superioridade da raça alemã e instigava a população contra judeus e outros “inimigos”. Os nazistas também procuravam recuperar o orgulho nacional e desviar as tensões internas contra esses “inimigos”. Adicionalmente, programas sociais, de recuperação de empregos e grandes obras públicas atraíam o apoio popular.
Ao mesmo tempo, sempre que houvesse um dissenso, a censura evitava que opiniões contrárias fossem divulgadas e praticamente não havia restrições para medidas repressivas como prisões, torturas, deportações e assassinatos de opositores políticos. Boas partes dos alemães que se opuseram ao nazismo tiveram que deixar o país ou se calar para não arriscarem suas vidas.
Para saber mais:
GELLATELY, Robert. Apoiando Hitler: consentimento e coerção na Alemanha nazista. Rio de Janeiro: Record, 2011.
HERF, Jefrey. Inimigo Judeu. Propaganda nazista durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. São Paulo: EDIPRO, 2014.
SCHURSTER, Karl. A História do Tempo Presente e a nova historiografia sobre o Nacional Socialismo. 231 f. Tese (doutorado em História) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012.
Entre as principais atribuições da SS estava detectar inimigos reais ou potenciais, reprimí-los e policiar o povo alemão.
Os integrantes da SS eram selecionados entre aqueles indivíduos especialmente comprometidos com a ideologia nazista, sobretudo em seus aspectos raciais. Além disso, tinham que “provar” ascendência puramente ariana para mais gerações do que os candidatos a outros cargos do Estado nazista.
A SS era a organização diretamente responsável pela execução da Solução Final (vide pergunta 28). Os campos de concentração e extermínio (vide pergunta 30) eram administrados pela SS, bem como os Einsatzgruppen (vide pergunta 29) eram a ela subordinada. Diretamente envolvida nas mais graves violações de direitos humanos, a SS foi, juntamente com o próprio partido nazista, enquadrada como organização criminosa nos julgamentos de Nuremberg após a guerra (vide pergunta 54).
Para saber mais:
CAWTHORNE, Nigel. A História da SS: O Implacável Esquadrão da Morte de Hitler. São Paulo: Madras, 2012.
KOEHL, Roberto Lewis. A história revelada da SS. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2015.
WEALE, Adrian. A verdadeira história das SS. Lisboa: Clube do Autor, 2014.
O termo “campo de concentração” se refere a um local de detenção ou confinamento, geralmente em condições adversas, que não leva em conta as normas legais de uma democracia constitucional, sendo uma prática já existente antes do nazismo. A princípio, seus prisioneiros eram principalmente opositores políticos, sobretudo comunistas, social-democratas e sindicalistas. Porém, com o tempo, pessoas consideradas associais, criminosos reincidentes, testemunhas de Jeová, homossexuais e povos ciganos (sinti e roma) também foram feitos prisioneiros em Dachau. O número de judeus dentro do campo foi aumentando concomitantemente com a perseguição realizada pelo Estado.
Para saber mais:
DILLON, Cristopher. Dachau and the SS: A Schooling in Violence. Oxford University Press, 2016.
ZAMECNIK, Stanislav. That Was Dachau 1933-1939. Fondation Internationale De Dachau Le Cherche Midi. Primeira Edição, 2004.
United States Holocaust Memorial Museum. Concentration Camps 1933-1939. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/concentration-camps-1933-39
A Alemanha, o Japão e a Itália inicialmente assinaram o Pacto Anti Internacional Comunista, em 1936 e 1937. Também em 22 de maio de 1939, a Alemanha e a Itália assinaram um tratado conhecido como Pacto de Aço, formalizando a aliança do Eixo por meio de provisões militares. Durante a primeira metade da década de 1940, Hungria, Romênia, Eslováquia, Bulgária e o estado independente da Croácia também assinaram o Pacto Tripartite (ou Pacto do Eixo). A Finlândia se associou à guerra contra a URSS como “cobeligerante”, embora não tenha assinado o Pacto Tripartite.
Para saber mais:
PAYNE, Stanley G. A History of Fascism, 1914–1945. Madison, Wisconsin, USA: University of Wisconsin Press, 1995
EVANS, Richard J. Terceiro Reich em Guerra. São Paulo: Editora Crítica, 3ª edição. 2014.
United States Holocaust Memorial Museum. A Aliança do Eixo na Segunda Guerra Mundial.
https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/axis-alliance-in-world-war-ii-abridged-article
Em regiões do Leste Europeu, nas quais os judeus viviam relativamente isolados e com costumes distinguíveis, não era difícil identificá-los. Mas nas grandes cidades da Europa Ocidental, não havia traços claros que distinguissem os judeus, de modo que os nazistas se valeram de uma combinação de estratégias. Em várias ocasiões, foi ordenado que os judeus se cadastrassem sob risco de punições se não o fizessem; sem poder saber o que seria feito com os cadastros, muitos se apresentavam. Listas de associados de instituições judaicas e de cemitérios também podiam ser utilizadas, bem como registros previamente existentes de alguns países ocupados pela Alemanha nazista. Finalmente, os nazistas se valiam de uma ampla rede de denúncias e delações feitas por pessoas comuns para descobrir judeus que estivessem escondidos ou não tivessem se apresentado quando solicitado.
Importante destacar que, desde que pessoas compartilham e se identificam com uma identidade judaica qualquer, e mesmo sendo uma pergunta dificíl de responder (o que é um judeu?), nunca a resposta, na perspectiva judaica, foi aquela apresentada pelo nazismo. Pessoas que se encaixavam nessa concepção, não necessariamente judias, foram perseguidas. E também o contrário: pessoas que poderiam ser consideradas judias por alguma perspectiva judaica não foram perseguidas porque não se encaixavam na concepção nazista.
Para saber mais:
Enciclopédia do Holocausto – United States Holocaust Memorial Museum – As leis racias de Nuremberg – https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/concentration-camps-1933-39
NEWMAN, Amy. The Nuremberg Laws: Institutionalized Anti-semitism. San Diego: Lucent Books, 1999.
As primeiras medidas antissemitas do governo nazista foram leis discriminatórias, difamação pública e estímulo à marginalização social. Entre elas, a campanha de boicote a estabelecimentos comerciais pertencentes a judeus, em 1933, a expulsão de judeus do funcionalismo público ainda no mesmo ano e as leis de Nuremberg de 1935 (vide pergunta 18), as quais culminariam, em 1938, na Noite dos Cristais (vide pergunta 20).
Outros grupos perseguidos pelos nazistas também enfrentaram repressão nesse período. Nos primeiros anos, opositores políticos sofreram as medidas mais brutais, que incluíam a proibição de organização, censura e aprisionamento em campos de concentração. Outras populações discriminadas sofreram com ações que foram aos poucos se brutalizando, entre as quais uma lei de julho de 1933 – que permitia a esterilização forçada de pessoas com deficiências ou com distúrbios mentais, ciganos sinti e roma, afro-alemães e os chamados “associais” –, o endurecimento do parágrafo 175 – legislação anterior ao nazismo que discriminava os homossexuais – e a proibição das organizações de Testemunhas de Jeová, ambas de 1935.
Para saber mais:
GILBERT, Martin. O Holocausto: História dos Judeus na Europa na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Editora Hucitec, 2010.
GUTMAN, Israel. Holocausto y Memoria. Jerusalem: Yad Vashem, 2003.
REES, Laurence. O Holocausto: uma nova história. São Paulo: Vestígio, 2018.
A Kristallnacht foi descrita pelo governo alemão como ações espontâneas da população em resposta ao assassinato, em Paris, do diplomata alemão Ernst von Rath por um jovem judeu. No entanto, sabe-se que houve instigação e participação de tropas da SS nazistas em trajes civis.
Além de ataques a sinagogas, vandalização de cemitérios e saques de comércios que pertenciam a judeus, ao menos 91 judeus foram mortos e cerca de trinta mil foram levados para campos de concentração, como Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. Nos meses seguintes, 2.500 desses prisioneiros foram mortos nos campos e a maioria foi liberada com a condição de emigrarem da Alemanha, até então o foco da política antijudaica nazista.
Após o evento, o governo alemão fez um pronunciamento imediato de que os próprios judeus seriam os culpados pelo pogrom e impôs multa de um bilhão de Reichsmark (cerca de 400 milhões de dólares americanos) à comunidade judaica alemã. O governo do Reich confiscou todos os pagamentos de seguro aos judeus cujos negócios e casas foram saqueados ou destruídos, deixando os proprietários pessoalmente responsáveis pelo custo de todos os reparos.
A Kristallnacht é considerada um marco na passagem da discriminação aos judeus para sua perseguição com violência física, e o momento em que muitos deles perceberam que sua permanência na Alemanha seria inviável.
Para saber mais:
EVANS, Richard J. A chegada do Terceiro Reich. São Paulo: Editora Planeta, 2010.
FRIEDLÄNDER, Saul. A Alemanha nazista e os judeus, volume I: Os anos da perseguição, 1933-1939. São Paulo:
GILBERT, Martin. A noite de cristal: a primeira explosão de ódio nazista contra os judeus. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006.
Ainda que discriminados, era de fato impensável, mesmo para os judeus alemães (e ainda mais para os de outros países), antes do início da 2ª Guerra Mundial, prever que uma catástrofe de tal dimensão pudesse acontecer. Muitos judeus acreditavam que se tratava de mais uma fase ruim, tal como outras na história deste povo, que logo passaria. Soma-se a isso o alto grau de integração social dos judeus alemães, que fazia com que muitos se sentissem apegados ao país e à vida que lá levavam.
A partir de 1938, mais judeus passaram a procurar emigrar. Porém, outros obstáculos se colocavam. Muitos não tinham recursos necessários para o processo migratório, o que se agravou com as políticas discriminatórias e com limites de dinheiro que emigrantes podiam levar consigo.
Finalmente, havia as políticas migratórias restritivas de muitos países. Vários deles, desde os anos 1920, impuseram restrições ao número, origem e características dos imigrantes. Em alguns casos, havia limitações específicas voltadas a judeus. Justificativas econômicas, políticas e raciais se juntavam a essas políticas, que se acentuaram com o avançar dos anos 1930, inclusive no Brasil (vide pergunta 22). Em 1938, representantes de 32 países se reuniram em Evian, na França, para discutir a questão, mas, com exceção da República Dominicana, nenhum país aceitou modificar suas políticas de imigração.
A partir de 1939, a própria guerra e, pouco depois, mudanças na estratégia nazista em relação aos judeus, tornariam a deixar a Europa uma missão praticamente impossível.
Para saber mais:
CARVALHO, Bruno Leal Pastor de Carvalho. Sem saída: entendendo a permanência de judeus na Europa nazista (Artigo) In: Café História – História feita com cliques. Publicado em 18 de fevereiro de 2019. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/por-que-tantos-judeus-nao-deixaram-a-eruopa-durante-o-nazismo
LESSER, Jeffrey. O Brasil e a Questão Judaica. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1995.
MILGRAM, Avraham; ROZETT, Robert. O Holocausto – as perguntas mais frequentes. Jerusalém: Yad Vashem, 2012.
O governo brasileiro emitia circulares secretas para embaixadas e consulados com o intuito de dificultar a imigração de judeus e de outros grupos considerados indesejáveis. A mais impactante delas foi a circular secreta 1127 de 1937, expedida pelo chanceler Oswaldo Aranha, que proibia a concessão de vistos para pessoas de “origem semita”, com algumas exceções, como pessoas com familiares já estabelecidos no Brasil e determinadas profissões.
O regime comandado por Getúlio Vargas adotou uma postura nacionalista e anticomunista. Dentro dessa perspectiva, a imigração era tema de acalorados debates. Dentro do governo, havia vozes díspares, mas muitas viam nos judeus um elemento racialmente indesejável e inassimilável; judeus também eram recorrentemente associados ao comunismo.
Por outro lado, as ambiguidades do governo Vargas, brechas legais, ajuda de funcionários diplomáticos sensibilizados e estratagemas (como entrada com vistos temporários ou de turistas) fizeram com que, apesar das circulares secretas, muitos judeus conseguissem vir para o Brasil antes do início da Segunda Guerra Mundial. Entre 1933 e 1939, estima-se que cerca de 10 mil judeus alemães chegaram ao Brasil. Ao mesmo tempo, embora seja difícil estimar números exatos, muito outros foram impedidos de imigrar devido a essas circulares.
Para saber mais:
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Anti-Semitismo na Era Vargas: fantasmas de uma geração (1930-1945). São Paulo: Brasiliense, 1988.
KOIFMAN, Fabio. Quixote nas Trevas – o Embaixador Souza Dantas e os Refugiados do Nazismo na França. Rio de Janeiro: Record, 2002.
LESSER, Jeffrey. O Brasil e a Questão Judaica. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1995.
Em 1938, notícias sobre dois eventos na Alemanha nazista chegaram à comunidade internacional: o terrorismo nazista contra os judeus após a anexação da Áustria (o Anschluss), em março; e o pogrom nacional de 9 a 10 de novembro (Kristallnacht) (vide pergunta 20), que acabou gerando uma condenação internacional, inclusive por parte do presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.
Embora alarmados, a maior parte dos países – principalmente o Reino Unido e a França –
adotou uma política de apaziguamento, fazendo concessões a Alemanha nazista em nome da manutenção da paz na Europa. As memórias da Primeira Guerra Mundial eram recentes e traumáticas, e evitar um novo conflito bélico era uma prioridade. Assim, permitiram que a Alemanha violasse o tratado de Versalhes ao se rearmar e, em 1938, anexando a Áustria e parte da Tchecoslováquia ao seu território – esta última autorizada por França e Reino Unido na Conferência de Munique de 1938, um dos grandes marcos da política de apaziguamento. Quando, porém, em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, ficou claro que o regime de Hitler jamais esteve disposto a cumprir sua parte nesse apaziguamento e a Segunda Guerra Mundial teve início.
Para saber mais:
EVANS, Richard J. A chegada do Terceiro Reich. São Paulo: Editora Planeta, 2010
LEFF, Laurel. Buried by the Times: The Holocaust and America's Most Important Newspaper. Cambridge University Press, 2005.
O projeto estava baseado na eugenia, um conjunto de ideias pseudocientíficas surgidas no século XIX que defendiam a seleção de indivíduos para se reproduzirem (ou não) com base em supostas características hereditárias, o que seria um “melhoramento da raça”. O regime nazista considerava que estas pessoas representavam um ônus genético e financeiro ao povo alemão.
Desde os primeiros anos do regime nazista, entre 300 mil e 400 mil pessoas com diagnósticos de esquizofrenia, epilepsia e uma série de condições médicas consideradas pelos nazistas como “doenças incuráveis” já haviam sido esterilizadas à força – prática que outros países, à época, também efetuavam. Com o início da 2ª Guerra Mundial, essas ações se radicalizaram e deu-se início a Aktion T4. Primeiramente, crianças com deficiências e depois adultos eram enviados a clínicas, que na verdade funcionavam como centros de extermínio, onde eram assassinados. Em 1941, por pressão popular, o programa foi oficialmente suspenso, mas o extermínio prosseguia de forma mais descentralizada.
Estima-se que mais de 200 mil pessoas foram assassinadas nesse programa, o qual em muitos sentidos – como treinamento de pessoal e desenvolvimento de técnicas de asassinato em massa – acabou servindo como uma espécie de laboratório para a implementação da Solução Final (vide pergunta 28).
Para saber mais:
MUSEU DO HOLOCAUSTO DE CURITIBA. Nada sobre nós sem nós: a perseguição às pessoas com deficiências durante o Holocausto.
EVANS, Suzanne E. Forgotten crimes: the Holocaust and people with disabilities. Chicago: Ivan R. Dee, 2004.
SILVA, Danilo; SPELLING, Germano Weniger. Práticas e discursos aplicados pelo regime nazista sobre surdos na Segunda Guerra Mundial. Revista Re-Unir, v. 5, p. 157-168, 2019.
Os guetos eram, aos olhos dos nazistas, uma solução temporária. Após a invasão da Polônia em 1939, ao se depararem com uma população judaica muito maior e com menos recursos financeiros se comparado a Alemanha, perceberam a inviabilização do plano de forçar a emigração, estratégia empregada até então.
A criação de guetos foi uma etapa fundamental no processo nazista de separar brutalmente, perseguir e, por fim, destruir os judeus da Europa. Os guetos permitiam controlar a população judaica, facilitava a logística de sua futura deportação e estimulava a conivência da população não-judia local, ao retirar os judeus do convívio social.
O primeiro gueto foi estabelecido na cidade polonesa de Piotrków Trybunalski, em outubro de 1939. Foi ordenado pelos alemães que todos os judeus destes locais usassem distintivos ou braçadeiras de identificação, a Estrela de David. Conselhos judaicos nomeados pelos nazistas administravam a vida diária nos guetos e a força policial fazia cumprir as ordens das autoridades alemãs e dos conselhos judaicos (vide pergunta 26). Na maioria dos guetos estabelecidos no Leste europeu, os judeus eram submetidos a péssimas condições de vida: fome, escassez crônica, inverno rigoroso, moradias inadequadas e sem aquecimento, e a ausência de serviços municipais adequados levaram a surtos repetidos de epidemias e a uma alta taxa de mortalidade.
Para saber mais:
BROWNING, Christopher. Ghettos 1939–1945. New Research and Perspectives on Definition, Daily Life, and Survival. United States Holocaust Memorial Museum. Washington, DC, 2005.
MIRON, Guy. Enciclopedia de los Guetos Durante el Holocausto. Yad Vashem Publications, 2015.
A atuação, o grau de colaboração com os nazistas e de envolvimento com movimentos de resistência judaicos variava muito de um gueto para outro, desde a participação ativa na resistência até o cumprimento das ordens mais repressivas das autoridades nazistas. Além disso, forçados a implementar a política nazista, os presidentes do conselho judaico tiveram que decidir se cumpriam ou se recusavam a acatar as exigências alemãs de, por exemplo, listar nomes de judeus para as deportações.
Os membros dos conselhos judaicos enfrentaram graves dilemas morais. O papel deles continua sendo um assunto controverso até hoje.
Para saber mais:
MICHMANN, Dan. On the Historical Interpretation of the Judenräte Issue: Between Intentionalism, Functionalism and the Integrationist Approach of the 1990s', in: ZIMMERMANN, Moshe (ed.). On Germans and Jews under the Nazi Regime. Essays by Three Generations of Historians. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press, 2006.
TRUNK, Isaiah. Judenrat. The Jewish Councils in Eastern Europe under Nazi Occupation, Stein & Day, 1977.
WEISS, Aharon. Jewish Leadership in Occupied Poland. Postures and Attitudes, in Yad Vashem Studies 12/1977, s. 335-365.
Para saber mais:
Enciclopédia do Holocausto – United States Holocaust Memorial Museum – Guetos – https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/ghettos
GUTMAN, Israel. Resistance: The Warsaw Ghetto Uprising. Houghton Mifflin, 1998.
RINGELBLUM, Emmanuel. Notes from The Warsaw Ghetto: The Journal Of Emmanuel Ringelblum. Pickle Partners Publishing, 2015
A decisão pela Solução Final – e não de outras “soluções para o problema judaico” até então discutidas no partido nazista, como a deportação para regiões distantes como Sibéria, Madagascar ou Argentina – provavelmente se deu em algum momento no segundo semestre de 1941. Sua execução começou de forma menos organizada e homogênea, mas não menos mortal, com as ações dos Einsatzgruppen nos territórios da União Soviética que vinham sendo invadidos pela Alemanha (vide pergunta 29).
Em 20 de janeiro de 1942, 15 oficiais do alto escalão do Partido Nazista e do governo alemão se reuniram em Wannsee, no subúrbio de Berlim, na chamada “Conferência de Wannsee”. Durante o encontro, a decisão da Solução Final foi comunicada e se iniciou a organização para sua implementação em todo território controlado pela Alemanha nazista.
A partir desse momento, os nazistas começaram a deportação sistemática de judeus de toda a Europa para campos de concentração, sobretudo para seis campos de extermínio estabelecidos no antigo território polonês – Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau e Majdanek. Ao todo, cerca de seis milhões de judeus foram mortos.
Para saber mais:
BAUER, Yehuda. A History of the Holocaust. Franklin Watts, 1982.
LONGERICH, Peter. Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews. Oxford University Press, 2010.
ROSEMAN, Mark. Os Nazistas e a Solução Final: a Conspiração de Wannsee: do Assassinato em Massa ao Genocídio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
Os Einsatzgruppen costumavam chegar aos locais pouco depois do avanço do exército regular e fuzilar, geralmente em florestas dos arredores, populações consideradas como “inimigas”, frequentemente com auxílio do exército alemão e de colaboradores locais. Um dos motivos para a sua utilização no Leste Europeu era a inviabilidade de expulsar os judeus, também pelo fato de boa parte das comunidades judaicas da URSS viverem em shtetls, de onde a logística para o transporte para os campos de concentração era difícil e o estabelecimento de guetos fazia pouco sentido. Inicialmente, seus alvos consistiam nas lideranças políticas locais, membros do partido comunista e homens judeus adultos, mas logo se estendeu à população judaica de modo geral, tornando-os responsáveis pelo assasinato de mais de um milhão de judeus, além de comunistas, ciganos roma e prisioneiros soviéticos.
Para saber mais:
EARL, Hilary. The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945–1958: Atrocity, Law, and History. Cambridge University Press. Nova Iorque, 2009.
HILBERG, Raul. A destruição dos judeus europeus. São Paulo: Amarlys, 2016.
RHODES, Richard. Mestres da Morte. A Invenção do Holocausto Pela SS Nazista. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
O universo concentracionário era, no entanto, heterogêneo. Nos campos de trabalhos forçados, os prisionieros eram brutalmente explorados e obrigados a trabalhar em empresas – sobretudo ligadas ao esforço de guerra – estatais ou privadas (cujos proprietários pagavam à SS uma taxa muito abaixo dos salários regulares para utilizar essa mão-de-obra escrava). Os prisioneiros não tinham roupas, alimentação ou descanso adequados, de modo que muitos morriam.
Durante a operação Aktion T4 (vide pergunta 24), centros de extermínio que se passavam por clínicas foram utilizados para o assassinato em massa de pessoas com deficiências ou transtornos mentais. A tecnologia e o pessoal treinado na operação T4 foram, a partir de 1942, empregados nos campos de extermíno na Polônia ocupada, estes usados exclusivamente para matar os prisioneiros, sobretudo judeus.
Havia ainda os campos de trânsito, utilizados como parte do aparato logístico para deslocamento de prisioneiros para e entre os campos.
Essas categorias não devem, no entanto, serem tomadas de forma rígida: havia campos que cumpriam múltiplas funções em diferentes períodos ou simultaneamente.
Para saber mais:
HILBERG, Raul. A destruição dos judeus europeus. São Paulo: Amarlys, 2016.
EVANS, Richard. O terceiro Reich no poder. São Paulo: Planeta, 2014.
Campos como o de Auschwitz, na Polônia ocupada, o de Buchenwald, no centro da Alemanha, o de Gross-Rosen, na parte leste da Alemanha, o de Natzweiler-Struthof, no leste da França, o de Ravensbrück, perto de Berlim, e o de Stutthof, perto de Danzig, na costa do Mar Báltico, tornaram-se centros administrativos de imensas redes de campos subsidiários de trabalho escravo. Destacam-se ainda, por seus tamanhos e fluxos de prisioneiros, os campos de Bergen-Belsen e Dachau, na Alemanha, e o de Mauthausen, na Áustria.
De todo modo, a maioria dos campos se encontrava na Polônia ocupada pela Alemanha nazista. Em grande medida, pois era onde se concentrava grande parte da população judaica da Europa, de modo que facilitava a logística nazista para o transporte, confinamento e, posteriormente, para o extermínio.
Para saber mais:
HILBERG, Raul. A destruição dos judeus europeus. São Paulo: Amarlys, 2016.
GUTMAN, Israel; BERENBAUM, Michael. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. 1994.
HACKETT, David A. O relatório Buchenwald. Rio de Janeiro: Record, 1998.
O primeiro método de gaseamento utilizado em grande escala em campos de extermínio foram as “vans de gás”, que consistiam em caminhões fechados com o cano de escapamento voltado para o local onde os prisioneiros eram colocados. Esse método foi utilizado no primeiro campo de extermíno colocado em operação, ainda em fins de 1941: Chelmno, na Polônia ocupada.
Em seguida, câmaras de gás, instalações fechadas nas quais era possível inserir gás, foram construídas nos campos de extermíno de Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek e no complexo de Auschwitz-Birkenau, todos também na Polônia ocupada. A maioria desses campos usava o Zyklon B como agente intoxicante em suas câmaras de gás, mas o monóxido de carbono também poderia cumprir função similar.
Campos de concentração como Stutthof, Mauthausen, Sachsenhausen e Ravensbrück, embora não projetados especificamente como centros de extermínio, também tinham câmaras de gás. Nesses casos, as câmaras eram relativamente pequenas, construídas para matar os prisioneiros que os nazistas consideravam “inadequados" para o trabalho.
Para saber mais:
PRESSAC, Jean-Claude. Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers. Trad.: Peter Moss. New York: Beate Klarsfeld Foundation, 1989
United States Holocaust Memorial Museum. Operações de asfixia por gás. Enciclopédia do Holocausto. https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/gassing-operations
VENEZIA, Shlomo. Sonderkommando: no inferno das câmaras de gás. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
A existência dessa função diminuia o custo de manutenção do campo de concentração – afinal, reduzia a quantidade de pessoal da SS necessário para manter o campo funcionando. Além disso, revelava uma das faces mais cruéis do universo concentracionário, colocando as vítimas umas contras as outras.
Os kapos eram geralmente selecionados entre os prisioneiros mais violentos – era comum que tivessem um histórico de crimes comuns. Os kapos eram poupados do trabalho mais duro e, a depender do campo de concentração, tinham privilégios como alimentos extras, cigarros e alojamentos menos ruins; em troca, deveriam demonstrar aos oficiais nazistas disposição para serem brutais com os outros prisioneiros – se não cumprissem sua função com o zelo que os nazistas esperavam, podiam ser “rebaixados” a prisioneiros comuns ou punidos.
Enquanto alguns kapos se valiam de sua posição para tentar ajudar os prisioneiros sob seu comando, muitos outros, preocupados com a própria sobrevivência, eram extremamente severos com os prisioneiros e eram por eles odiados. Após a guerra, a acusação dos kapos como criminosos de guerra, particularmente os que eram judeus, criou um dilema ético não solucionado até os dias de hoje.
Para saber mais:
FRILING, Tuvia. A Jewish kapo in Auschwitz: history, memory, and the politics of survival. Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, 2014.
LEVI, Primo. A trégua. São Paulo: Planeta de Agostini, 2004a.
TISMA, Aleksander. Kapo. San Diego: Harcourt Trade Publisher, 1987.
À medida que os trilhos e trens alemães se tornavam escassos e deteriorados, esses deslocamentos começaram a ser feitos a pé, em longas caminhadas no frio. Cerca de um quarto dos prisioneiros forçados a caminhar morriam de frio, fome ou eram fuzilados no caminho.
O termo “marchas da morte” também pode ser utilizado para deslocamentos semelhantes no início da guerra, muitas vezes em direção oriental, mas geralmente se referem às marchas do inverno de 1944-45.
As evacuações dos campos de concentração tiveram três objetivos: as autoridades da SS não queriam que os prisioneiros caíssem vivos nas mãos do inimigo para contar suas histórias, como ocorrera em Majdanek; pensaram que precisavam de prisioneiros como mão-de-obra, inclusive para manter a produção de armamentos; e, por último, alguns líderes da SS, incluindo Himmler, acreditavam que poderiam usar prisioneiros judeus como reféns para negociar uma paz separada no Oeste, que garantiria a sobrevivência do regime nazista.
Para saber mais:
HILBERG, Raul. A destruição dos judeus europeus. São Paulo: Amarlys, 2016.
BLATMAN, Daniel. The Death Marches: The Final Phase of Nazi Genocide. Tradutor: Chaya Galai. Belknap Press, 2010.
STIVELMAN, Michael. A marcha da morte. Rio de Janeiro: Imago, 2011.
Enquanto estas apontam números relativamente precisos para os mortos nos guetos e campos de concentração e extermínio, os registros sobre os massacres executados pelos Einsatzgrupen (vide pergunta 29) é mais esparsa e ficou muitos anos sob guarda de arquivos da URSS, o que dificultava seu acesso por pesquisadores de outros países. Um dos primeiros estudos de grande profundidade sobre o tema, de Raul Hilberg, publicado em 1961, indicava para o número de 5,1 milhões. Pesquisas posteriores, como as de Lucy Dawidowicz e Wolfang Benz, apontam para entre 5 e 6,2 milhões de judeus assassinados durante o Holocausto.
O número de vítimas não-judias mortas pela perseguição nazista (ou seja, não os mortos pela guerra, mas por políticas de perseguição) é ainda mais difícil de estimar, em função de lacunas documentais e menor número de pesquisas até o momento. Ainda assim, há estimativas que apontam entre 5 e 11 milhões de não-judeus – povos ciganos roma e sinti, negros, Testemunhas de Jeová, pessoas com deficiências, homossexuais, prisioneiros políticos, etc – assassinados pelos nazistas e seus colaboradores.
Para saber mais:
BENZ, Wolfgang. The Holocaust: A German Historian Examines the Genocide.. Columbia University Press, 2000.
DAWIDOWICZ, Lucy. The War Against the Jews, 1933-1945, New York: Holt, Rinehart and Winston: 1975.
HILBERG, Raul. A destruição dos judeus europeus. São Paulo: Amarlys, 2016.
Nos países ocupados, a postura da população civil dependia de fatores como a severidade das punições infligidas pelos nazistas aos opositores, as relações com os judeus daquele país antes da guerra e interesses e divisões políticas locais. Em vários países do Leste Europeu, por exemplo, o antissemitismo histórico e a crença de que compartilhavam na figura da URSS um inimigo em comum com os nazistas levou amplas camadas da população a colaborar com a ocupação nazista. Na Dinamarca, por outro lado, foi a ação organizada da sociedade civil que evitou a deportação de mais de 90% dos judeus do país. Em ambos os casos, no entanto, houve pessoas que arriscaram suas próprias vidas para salvar vítimas do Holocausto (ver pergunta 40) e outras que, por interesse, ódio ou conveniência, colaboravam com os nazistas.
Para saber mais:
BROWNING, Christopher. Aquellos hombres grises. El Batallón 101 y la Solución Final en Polonia. Barcelona: Edhasa, 2002.
GELLATELY, Robert. Apoiando Hitler: consentimento e coerção na Alemanha nazista. Rio de Janeiro: Record, 2011.
SNYDER, Timothy. Terra negra: o Holocausto como história e advertência. São Paulo: companhia das letras, 2016.
Até os anos 1970, a luta armada era, por muitas vezes, a única forma de resistência levada em consideração na construção da memória do Holocausto. Desde então, esta perspectiva tem mudado, incorporando o conceito mais amplo de Amidá – termo este (em hebraico) quase impossível de traduzir e que significa literalmente “estar de pé contra”, mas não capta seu sentido completo.
Hoje, o Yad Vashem, em Jerusalém, define como resistência “qualquer ação individual ou em grupo conscientemente adotada em oposição a leis conhecidas ou supostas, contra ações ou intenções dirigidas contra os judeus pelos nazistas alemães e seus simpatizantes”. Incluem-se o contrabando de comida e mantimentos, a imprensa clandestina, a manutenção da observância de feriados e rituais religiosos, a educação clandestina, a coleta e ocultação de documentação, as iniciativas de suborno e as tentativas conscientes de preservar a história e a vida comunitária do povo judeu, apesar dos esforços nazistas para erradicá-los.
Parar saber mais:
BAUER, Yehuda. Rethinking the Holocaust. Yale University Press, 2001.
DRUCKS, Herbert. Jewish Resistance During the Holocaust. New York: Irvington, 1983.
GINSBERG, Benjamin. How the Jews Defeated Hitler: Exploding the Myth of Jewish Passivity in the Face of Nazism. Rowman & Littlefield Publishers. 2013.
Essas unidades de resistência se engajaram em guerrilhas e sabotagem contra a ocupação nazista. Porém, as condições dos partisans na floresta eram péssimas. Os indivíduos precisavam se deslocar de um lugar para outro para evitar serem descobertos, atacar os suprimentos de comida dos fazendeiros e tentar sobreviver ao inverno em abrigos frágeis construídos com troncos e galhos. Por muitas vezes, essas unidades de guerrilha acabaram por se transformar em esconderijos para idosos, mulheres e crianças judias, que buscavam escapar dos guetos. Em alguns lugares, os guerrilheiros recebiam assistência de moradores locais da área rual, mas com mais frequência não podiam contar com ajuda: em parte, por causa do antissemitismo generalizado; e, principalmente, devido ao medo dos locais de serem severamente punidos por ajudar. Por isso, os partisans viviam em perigo constante de informantes, que revelavam seus paradeiros aos nazistas.
Para saber mais:
ANFLICK, Charles. Resistance: Teen Partisans and Resisters Who Fought Nazi Tyranny. New York: Rosen Publishers, 1999.
LEVIN, Nora. Resistance in the Forest. The Holocaust: the destruction of European Jewry. New York: Schocken Books. 1971
LEVINE, Allan. Fugitives of the Forest: The Heroic Story of JewishResistance and Survival during the Second World War. Stoddart: Toronto, 1998.
O Rosa Branca (Weisse Rose), atuante em Munique e em Hamburgo, foi o movimento de resistência de jovens alemães mais conhecido durante o Terceiro Reich. Seu núcleo era formado por universitários, entre ele os irmãos Hans e Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf e Christoph Probst, que distribuíam panfletos para tentar despertar ao menos um mínimo de dúvidas sobre a veracidade da propaganda feita pelo regime e alimentar eventuais células de resistência no próprio povo alemão.
Em outros países, também houve iniciativas de resistência. Na França, após a rendição oficial, diversos movimentos, cuja diversidade abarca o grupo de Charles de Gaulle, comunistas, refugiados judeus e republicanos espanhóis se articularam no que ficou conhecido como “Resistência francesa”. Na Polônia, a Armia Krajowa (Exército Nacional) executou ações de sabotagem e liderou o levante polonês de Varsóvia, em 1944. Na Itália, a luta armada contra os regimes de Mussolini e de Hitler chegou a congregar cerca de 300 mil combatentes das mais variadas tendências políticas: católicos, comunistas, monarquistas, anarquistas, liberais, entre outros, enquanto na ex-Iugoslávia, o marechal Tito liderou os partisans contra a ocupação nazista.
Para saber mais:
COBB, Matthew. The Resistance: The French Fight Against the Nazis. Simon & Schuster Ltd, 2009.
DUMBACH, Annette; NEWBORN, Jud. Sophie Scholl & The White Rose. First published as "Shattering the German Night", 1986; expanded, updated edition Oneworld Publications, 2006.
BEREMBAUM, Michael J.; PECK, Abraham J. The Holocaust and History: The Known, the Unknown, the Disputed, and the Reexamined. Indiana University Press, 1998.
Em muitos casos, foram pessoas comuns que salvaram as vítimas judias da perseguição. Eles escolheram, contra todas as probabilidades, esconder uma ou mais pessoas em sua casa, ajudá-las a fugir, obter documentos falsos, etc. Ignoraram as leis, opuseram-se à opinião pública e decidiram fazer o que lhes parecia certo. Tais indivíduos agiram na contramão das massas, em nome de valores que faltaram aos perpetradores, colaboradores e observadores passivos.
Também há casos em que grupos de pessoas, em vez de indivíduos, resgataram judeus. Na Holanda, Noruega, Bélgica e França, grupos de resistência clandestina os ajudaram, principalmente, a encontrar esconderijos. Em alguns casos, alemães altamente colocados usaram sua posição para ajudar. O mais famoso desses salvadores é Oskar Schindler, o empresário alemão que resgatou milhares de judeus do campo de Plaszow, empregando-os em sua fábrica. Há registros de instituições e também de um país inteiro considerado “Justo entre as Nações”: a Dinamarca (vide pergunta 36).
Até hoje, quase 28 mil homens e mulheres receberam a honra e o título de “Justos entre as Nações”, e novos nomes são acrescentados todos os anos. Os muitos casos de resgate perpetuados por aqueles designados como "Justos entre as Nações" mostram que o resgate era de fato possível, apesar das circunstâncias perigosas.
Para saber mais:
EHRLICH, Michel. A compaixão na política – o caso dos Justos entre as nações. Revista Eletrônica Discente História.com, v. 3, n. 6, p 78-94, 2016.
GUTMAN, Israel. Holocausto y Memoria. Jerusalem: Yad Vashem, 2003.
LEWIN, Helena. Solidariedade em tempos sombrios: tributo aos “Justos entre as nações”. WebMosaica Revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, Porto Alegre, v. 3, n.1, p. 19-31, 2011.
Luiz Martins de Souza Dantas intercedia em favor dos perseguidos emitindo vistos “irregulares” de próprio punho, mesmo com orientação oficial contrária. Em contraste com as tendências antissemitas que predominavam na administração consular brasileira, ele seguiu colaborando com os refugiados. Em meados de 1944, Dantas retornou ao Brasil, depois de 14 meses confinado pelos alemães. Sua atitude solidária foi reconhecida em 2003, honrado pelo Yad Vashem como “Justo entre as Nações”.
Aracy Moebius de Carvalho também ajudou judeus a fugirem para o Brasil. Em 1938, entrara em vigor no país a Circular Secreta 1.127, que restringia a entrada de judeus (vide pergunta 22). Apesar disso, Aracy se valeu de seu trabalho no escritório de expedição de passaportes entre 1936 e 1942 para ajudar judeus alemães a conseguirem vistos para o Brasil. Com a ajuda do cônsul-adjunto e escritor João Guimarães Rosa, com quem viria a se casar, Aracy contrariou o governo brasileiro e colocou seu trabalho em risco ao omitir a letra “J” nos passaportes daqueles que a procuravam. Também chegou a alojar judeus em sua própria casa nos dias anteriores ao embarque no porto de Hamburgo.
Aracy permaneceu na Alemanha até 1942, quando o Brasil rompeu relações diplomáticas com aquele país e passou a apoiar os Aliados. Em 1982, a brasileira foi agraciada pelo Yad Vashem com o título de “Justa entre as Nações”.
Para saber mais:
KOIFMAN, Fábio. Quixote nas trevas: o embaixador Souza Dantas e os refugiados do nazismo. Rio de Janeiro: Editora Record, 2002.
SCHPUN, Mônica Raïsa. Justa. Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil. Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira, 2011.
Ao mesmo tempo, o governo brasileiro cultivava boas relações com os Estados Unidos, que incluíam o financiamento norte-americano da usina de Volta Redonda e a construções de bases militares estadunidenses no Brasil, ainda antes da entrada daquele país na 2ª Guerra Mundial.
Tentando manter esse complexo equilíbrio, o governo de Getúlio Vargas procurou, em um primeiro momento, permanecer neutro no conflito bélico. Porém, em 1942, essa postura se tornou insustentável. Os Estados Unidos haviam entrado na guerra e, em represália à adesão do Brasil aos compromissos da Carta do Atlântico (que previa o alinhamento automático com qualquer nação do continente americano que fosse atacada por uma potência extracontinental), submarinos alemães e italianos iniciaram o torpedeamento de embarcações brasileiras no oceano Atlântico.
Em agosto do mesmo ano, o Brasil declarava guerra contra a Alemanha e a Itália. No ano seguinte, seria criada a Força Expedicionária Brasileira (FEB), mas, somente em 1944, soldados foram enviados à Itália. Cerca de 25 mil brasileiros lutaram na guerra e mais de dois mil morreram. Apesar dos problemas na preparação, as tropas brasileiras cumpriram as principais missões que lhe foram atribuídas, com destaque para a tomada de Monte Castelo.
Para saber mais:
BONALUME NETO. Ricardo. A Nossa Segunda Guerra: Os brasileiros em combate. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1995.
GAMA, Arthur Oscar Saldanha. A Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: CAPEMI Editora, 1982.
OLIVEIRA, Dennison de. Para entender a Segunda Guerra Mundial. Curitiba: Juruá Editora, 2020.
Porém, a extensão da consciência do assassinato em massa de judeus organizado pelos nazistas entre as pessoas comuns dependeu de vários fatores. A British Broadcasting Corporation (BBC) tinha milhões de ouvintes em toda a Europa, mas transmitia apenas relatos esporádicos de assassinatos em massa de judeus. Em 1943, a notícia se espalhou para o público norte-americano, mas as fontes relataram alguns detalhes incorretamente. Além disso, havia muito pouca evidência visual dos crimes. No entanto, o ponto crucial da história – que os judeus em toda a Europa ocupada e aliada pelos alemães estavam sendo deportados e assassinados em centros de extermínio – estava à disposição do público norte-americano, embora fosse difícil mensurar a dimensão do genocídio.
Fotografias, filmes e transmissões de rádio por jornalistas que relataram de campos liberados, como Buchenwald e Bergen-Belsen, no fim da guerra trouxeram detalhes gráficos do horror das atrocidades nazistas para o mundo.
Para saber mais:
LEFF, Laurel. Buried by the Times: The Holocaust and America's Most Important Newspaper. New York, NY: Cambridge University Press, 2005.
STONE, Dan. The Liberation of the Camps: The End of the Holocaust and Its Aftermath. Yale University Press; 2015.
Durante décadas, houve um consenso de que o Vaticano teria seguido uma política de neutralidade. Mesmo assim, as ações do papa Pio XII sempre fizeram parte de um debate histórico. Enquanto pesquisadores o acusam de simpatia ao nazismo e de ter se calado ante os horrores do genocídio, destacando o acordo firmado entre a Santa Sé e a Alemanha nazista em 1933, outros especialistas, incluindo fontes do Vaticano, asseguram que Pacelli atuou nos bastidores para salvar o maior número possível de vítimas.
Outro alvo de discussão se refere a ausência de uma condenação pública veeemente por parte do papa à perseguição e ao extermínio de judeus, interpretado por muitos como omissão ou cumplicidade ao nazismo. Foram poucas e tímidas as vezes em que ele se manifestou, como em 1942, sem pronunciar as palavras “nazista” ou “judeu”.
Pela ausência de um posicionamento firme por parte do papa, a postura do clero variou de local para local. Diversos bispos, padres, monges e freiras se arriscaram para salvar judeus – muitos escondidos em paróquias, conventos e casas de acolhimento. Posteriormente, tais salvadores receberam o título de Justos Entre as Nações (vide pergunta 40). Alguns viriam ainda a serem canonizados pela Igreja Católica.
Em 2012, em uma exposição, o Yad Vashem, em Jerusalém, mudou a descrição de o papa que “não interveio” contra o extermínio para “não protestou publicamente”. O novo texto do museu israelense reconheceu diferentes visões da posição de Pio XII, afirmando que aguardava com expectativa o dia em que os arquivos do Vaticano seriam abertos aos pesquisadores. Em 2019, o Papa Francisco anunciou a abertura dos documentos do período do pontificado de Pio XII, de 1939 a 1958. As primeiras análises indicam que o papa sabia sobre grandes massacres de judeus. No entanto, o estudo de milhões de páginas poderá levar anos.
Para saber mais:
CORNWELL, John O Papa de Hitler: a história secreta de Pio XII. Tradução A. B. Pinheiro de Lemos. Rio de Janeiro: Imago, 2000.
FRIEDLÄNDER, Saul. Pio XII e a Alemanha Nazi. Tradução M. Rodrigues Martins. Lisboa: Tapir, 1967.
RIEBLING, Mark. O Papa contra Hitler. Editora Leya, 2018.
A política de perseguição nazista a cada um não foi, entretanto, a mesma. Testemunhas de Jeová e homossexuais poderiam, aos olhos dos nazistas, passar por processos de “correção”, que os livraria da morte. Raciocínio semelhante era usado no caso de opositores políticos, embora suas lideranças, sobretudo comunistas, tenham sido assassinadas sem haver outra possibilidade. Já aqueles perseguidos por critérios raciais ou eugênicos, como judeus, povos ciganos roma e sinti, pessoas com deficiências e afro-alemães, nada poderiam fazer para evitar essa condição.
Outro aspecto de diferenciação está no grau de planificação, maior no caso dos judeus – pelo que representavam no ideário nazista (vide pergunta 12) – do que, por exemplo, em relação aos negros, cuja perseguição foi menos organizada. A pretensão total do extermínio também não estava sempre presente. Os povos eslavos eram desprezados pelos nazistas, mas, aos olhos destes, seriam passíveis de serem escravizados, devendo o extermínio ser parcial. O genocídio da população com deficiências ou distúrbios mentais (vide pergunta 24) seguiu padrão de organização semelhante ao caso judaico, mas, com exceção de algumas regiões, se concentrou fundamentalmente dentro da Alemanha.
O caso dos povos ciganos roma e sinti é aquele com mais semelhanças ao genocídio dos judeus. Ambos foram alvos de extermínio em praticamente toda a Europa, com técnicas semelhantes e com a parcela assassinada similar da população de cada grupo. A depender da região, contudo, os povos ciganos assentados podiam ser poupados (enquanto os nômades eram perseguidos). Além disso, haveria, para os nazistas, uma priorização no extermínio dos judeus, pois eles representavam, para os perpetradores, um símbolo do mal incomparável.
Para saber mais:
BAUER, Yehuda. Reflexiones sobre el Holocausto. Jersusalém: EDZ Nativ Ediciones, 2013.
GUIMARÃES, Marcos Toyansk S. O extermínio de ciganos durante o regime nazista. Revista História & Perspectivas, v. 28, n. 53, 5 jan. 2016.
MILTON, Sybil. Gypsies and the Holocaust. The History Teacher, v. 24, n. 4, pp. 375-387, 1991.
Dessa forma, consideramos na categoria de sobrevivente não somente as pessoas que passaram por guetos, campos ou esconderijos, como ocorria nos primeiros anos do pós-guerra, mas também judeus que passaram a 2ª Guerra Mundial sob regimes colaboracionistas – mesmo que não tenham sido deportados para campos de concentração, caso de muitos judeus franceses, búlgaros e romenos.
Também são sobreviventes do Holocausto os judeus (principalmente poloneses) que, nas primeiras semanas da guerra, escaparam para a URSS. Da mesma forma, também se enquadram os judeus que deixaram a Alemanha entre 1933 e 1939 (ou seja, antes do início da 2a Guerra Mundial), quando, apesar de não haver políticas de extermínio, o regime nazista já os perseguia. Esta é a mesma situação na qual se encaixam judeus austríacos e de parte da Tchecoslováquia, que a partir de 1938 haviam sido anexados a Alemanha, e judeus italianos (cujo país era aliado da Alemanha) após as leis raciais de 1938.
Na mesma linha de definição, o Museu do Holocausto de Curitiba também define como sobreviventes das perseguições nazistas todos aqueles pertencentes a populações perseguidas pelo regime que estiveram em algum momento sob este domínio ou de seus colaboradores, abrangendo ainda o que se considera atualmente como comunidade LGBTQIA+, população negra, testemunhas de Jeová, povos ciganos roma e sinti, pessoas com deficiências ou com distúrbios mentais, eslavos, prisioneiros de guerra soviéticos e opositores políticos.
Para saber mais:
REISS, Carlos. Quem é um sobrevivente da Shoá? 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/15340EFK6VscB8bSvkVbPDlI1gmjTlXks/view?fbclid=IwAR1f6NPnBzjaa2wGrV5j314-mxWPd_fB5NcuypHTSehqKJSy2Xuh1oPm0Qg. Acesso em: 15 jun. 2020.
YAD VASHEM. FAQs: the Holocaust resource center. The Holocaust Resource Center. Disponível em: https://www.yadvashem.org/holocaust/faqs.html. Acesso em: 15 jun. 2020.
Muitas questões foram levantadas por tais pensadores, tais como onde teria estado Deus durante o Holocausto, se teria “ocultado sua face” ou se a aliança bíblica de Deus com o povo judeu teria sido abalada. A busca por modelos tradicionais, como o sofrimento do personagem bíblico de Jó e a punição ligada a Sodoma e Gomorra, por exemplo, também são temas ligados a este campo de debates. Discute-se ainda sobre a disposição dos judeus em sacrificar suas próprias vidas, conectando a argumentos ligados ao suicídio, martírio e glorificação a Deus. Outras demandas mais genéricas questionam um possível abuso do livre-arbítrio concedido aos homens por Deus e geram contestações teológicas a respeito do nazismo e do fascismo.
Aspectos mais modernos também são discutidos pela Teologia do Holocausto. Dentre elas, a relação entre a imigração de sobreviventes do Holocausto à Terra de Israel e questões ligadas à redenção e ao sonho messiânico, produzindo discussões sobre o sionismo e o significado religioso do Estado de Israel. A tese da singularidade absoluta do Holocausto, que gera divergências teológicas sobre possíveis comparações da Shoá a outros eventos históricos, além de discussões sobre a nomenclatura da tragédia (vide pergunta 2), também são temas presentes nesta área.
Para saber mais:
BUBER, Martin. Eclipse de Deus: considerações sobre a relação entre religião e filosofia. Rio de Janeiro: Verus, 2007.
COHON-SHERBOK, Dan. Holocaust Theology - A Reader. University of Exeter Press, Exeter, 2002.
FINGUERMAN, Ariel. Teologia do Holocausto. São Paulo: Paulus, 2012.
Nos anos seguintes, a população judaica nos DP camps aumentou, chegando a cerca de 250 mil pessoas. Isto porque muitos sobreviventes oriundos do Leste Europeu, principalmente da Polônia, deixaram a região devido aos problemas econômicos e políticos, além do antissemitismo. Cerca 700 campos para pessoas deslocadas chegaram a existir na Alemanha, Áustria e Itália.
Nesses campos, as condições de vida eram precárias e quem vivia lá dependia do auxílio da administração aliada e de organizações humanitárias internacionais ou judaicas. Apesar disso, havia nos DP camps intensa atividade cultural e social, altas taxas de núpcias e natalidade, além de servirem como importante ponto para familiares separados durante o Holocausto se reencontrarem. A permanência nesses campos se pretendia de curta duração, mas dificuldades burocráticas, econômicas e de obtenção de vistos fizeram com que houvesse sobreviventes da Shoá em campos de pessoas deslocadas até meados dos anos 1950. A maioria deles se estabeleceu em Israel após 1948 e o restante nos Estados Unidos ou em outros países, inclusive o Brasil (vide pergunta 49).
Para saber mais:
WYMAN, Mark. DPs: Europe's Displaced Persons, 1945–51. Cornell University Press; 1st edition, 1998.
United States Holocaust Memorial Museum. Administração das pessoas deslocadas pela guerra. https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/displaced-persons-administration
Para aqueles que já tinham familiares em outros países, estes se tornaram destinos muito atrativos, pois a presença desses parentes auxiliava a obtenção de vistos e a adaptação à nova morada. Muitos outros se entusiasmaram com o sionismo, movimento que ganhara força naquele momento, e pretendiam recomeçar suas vidas na Terra de Israel. Até 1948, estavam sujeitos às restrições migratórias britânicas, sendo ampliada uma rede de imigração ilegal. Com a criação do Estado de Israel, o país se abriu à imigração judaica – para muitos, também se tornou a única opção para onde conseguiam vistos.
Israel foi o principal destino de sobreviventes da Shoá, com os Estados Unidos recebendo também grande afluxo. Além deles, Brasil, Argentina, Canadá, África do Sul e Austrália, entre outros, também receberam um número significativo de judeus. Estimativas apontam para cerca de 25 mil sobreviventes tendo vindo para o Brasil (vide pergunta 50). Porém, cifras exatas são muito difíceis de calcular, inclusive porque muitas dessas pessoas passaram por mais de um país até se estabelecerem em definitivo.
Para saber mais:
BAUER, Yehuda. Flight and Rescue: Bricha. New York: Random House, 1970.
COHEN, Michael J. The Rise of Israel - the Holocaust and Illegal Immigration 1939-1947. New York: Garland, 1987.
NASAW, David. The Last Million: refugees to leave Europe after World War II. Penguin Press, 2020.
No período anterior à 2ª Guerra Mundial, há registros do governo brasileiro com relação à quantidade de judeus imigrantes no Brasil, embora sua exatidão possa ser questionada. Após isso, as principais fontes de cálculo são recenseamentos feitos pelas próprias instituições judaicas e dados de natalidade e mortalidade, mas que também podem apresentar distorções, de modo que não há um número preciso.
O Museu do Holocausto de Curitiba tem se esforçado em levantar registros de sobreviventes que reconstruíram suas vidas no Brasil, por meio do registro em um banco de dados e um processo de compilação de informações, dados e entrevistas (vide pergunta 58).
Para saber mais:
DECOL, René Daniel. Imigrações urbanas para o Brasil: o caso dos judeus. 264 p. Tese (doutorado em sociologia). Unicamp, Campinas-SP, 1999.
LESSER, Jeffrey. O Brasil e a Questão Judaica. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1995.
A adaptação variou de caso para caso. Contribuía para seu sucesso a presença prévia de familiares ou conhecidos e a integração na comunidade judaica na nova morada, cujas redes de solidariedade interna propiciavam acesso à moradia, empréstimos, oportunidades de emprego, bolsas de estudos para os filhos e espaços de sociabilidade.
A primeira ocupação profissional de grande parte desses imigrantes era a de mascates, geralmente vendendo tecidos e roupas adquiridos em consignação de judeus comerciantes estabelecidos antes. Tratava-se de um trabalho que exigia pouco capital inicial, conhecimentos do idioma ou instrução formal, e para o qual os outros membros da comunidade judaica poderiam ajudar. Após juntar algum dinheiro, a maioria desses sobreviventes do Holocausto imigrados ao Brasil pretendia abrir seu próprio comércio e propiciar condições para que seus filhos obtivessem formação de nível superior.
Para saber mais:
DECOL, René Daniel. Imigrações urbanas para o Brasil: o caso dos judeus. 264 p. Tese (doutorado em sociologia). Unicamp, Campinas-SP, 1999.
EHRLICH, Michel. O Macabeu: imigração e identidade judaica no Paraná (1954-1970). Curitiba: SAMP, 2017.
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Travessia sem volta: judeus poloneses refugiados no Brasil, 1939-1945. Revista del CESLA, International Latin American Studies Review, n. 22, pp. 7-52, 2018
A imigração judaica para a região que viria a ser Israel e o movimento político de criar um Estado-nação – o sionismo – precedem em décadas a Shoá. Iniciativas internacionais de partilha do território, então Mandato Britânico da Palestina, são anteriores. Parte do movimento sionista até temia que, após a Shoá, seu projeto de criar um Estado fosse inviabilizado devido à redução drástica da população judaica mundial. Consequentemente, é equivocado afirmar que a ideia de criar o Estado de Israel surgiu a partir do Holocausto.
Por outro lado, a repercussão do genocídio gerou uma pressão pela criação de um Estado judeu, embora não no sentido de uma reparação. A ideia de que haveria uma dívida da humanidade (e não só da Alemanha) perante os judeus não existia à época. A pressão era por solucionar o problema dos judeus sobreviventes que não possuíam para onde ir, tinham suas entradas dificultadas em vários países e que, por convicção ou necessidade, viam na criação de um Estado judeu a solução. Além disso, com o drama dos sobreviventes, o movimento sionista ganhou, nas disputas políticas entre os próprios judeus, popularidade muito maior do que tinha até os anos 1930.
Ainda assim, quando, em 1947, os países membros da ONU votaram – e aprovaram – a proposta de partilha da Palestina que levou à criação de Israel, seguiram, sobretudo, seus próprios interesses geopolíticos.
A ideia da criação de Israel como reparação pelo Holocausto é usada tanto por apoiadores como por críticos do Estado de Israel, mas trata-se de um argumento surgido a posteriori e que raramente era invocado nos anos 1940.
Para saber mais:
BAUER, Yehuda. Reflexiones sobre el Holocausto. Jersusalém: EDZ Nativ Ediciones, 2013.
FRIESEL, Evyatar. The Holocaust: Factor in the Birth of Israel? Shoah Resource Center. https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203575.pdf
NOVICK, Peter. The Holocaust in American life. Boston/New York: Mariner Books, 2000.
Em 1951, iniciaram-se negociações que culminaram no pagamento de indenizações da Alemanha Ocidental ao Estado de Israel pelo acolhimento de milhares de sobreviventes do Holocausto. No mesmo ano, foi criada a Claims Conference, responsável por negociar e administrar fundos de compensação individual a judeus sobreviventes. Outros países e empresas que colaboraram com o nazismo também elaboraram programas de reparação para vítimas. A possibilidade de receber indenização e o valor da mesma dependiam de variáveis como a condição de reunir provas, a trajetória individual do sobrevivente e as especificidades do programa de reparação no qual fora incluído.
Em processos que podiam se estender por décadas (em alguns casos, até hoje), judeus têm buscado reaver ou serem indenizados por propriedades e bens confiscados pelos nazistas, como imóveis e obras de arte.
Para outras vítimas do nazismo, o caminho foi mais tortuoso. O reconhecimento tardio de que foram vítimas da perseguição atrasou também a possibilidade de indenizações. Isso, somado ao pouco acesso ao poder político de populações até hoje em grande medida marginalizadas, como os povos roma e sinti, e a dificuldade de comprovar documentação, fizeram com que a maioria das vítimas roma e sinti, pessoas com deficiências ou com distúrbios mentais, homossexuais, população negra, testemunhas de Jeová e outros perseguidos pela opressão nazista até hoje não tenham acesso às justas indenizações.
Para saber mais:
BARZEL, Neima. Dignity, Hatred, and Memory – Reparations from Germany: The Debates in the 1950s. Yad Vashem Studies, 24 (1994): 247–80.
PROSS, Christian. Paying for the Past: The Struggle over Reparations for Surviving Victims of the Nazi Terror. Johns Hopkins University Press; First Edition, 1998.
ZWIEG, Ronald W. German Reparations and the Jewish World: A History of the Claims Conference. Routledge; 2001.
Passados os primeiros anos do pós-guerra, o ímpeto de julgar criminosos nazistas arrefeceu. A necessidade de reconstruir a Alemanha e os novos conflitos da guerra fria, além de fugas, trocas de identidade e destruição de evidências, fizeram com que muitos nazistas escapassem de julgamentos.
Ainda assim, o trabalho de instituições e indivíduos como Simon Wiesenthal e o casal Serge e Beate Klarsfeld foram importantes para identificar, localizar e extraditar para serem julgados criminosos nazistas espalhados pelo mundo. O mais famoso deles foi de Adolf Eichmann, cujo julgamento em Israel em 1961 se detacou, além da condenação do réu à morte, pela intensa cobertura midiática e pelo uso expressivo de testemunhos de sobreviventes. Esse julgamento foi um marco para que cada vez mais sobreviventes – cujas memórias eram até então em grande medida silenciadas – viessem a público contar suas trajetórias.
Ainda hoje, é possível encontrar notícias de julgamentos que continuam a ocorrer na Alemanha, onde tais crimes são imprescritíveis.
Para saber mais:
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. Companhia das Letras, 1999.
GOLDENSOHN, Leon. As Entrevistas de Nuremberg. Companhia das Letras, 2005.
WIESENTHAL, Simon. O caçador de nazistas. Eloíse de Vylder. Rio de Janeiro: Bloch, 1967.
O capitão da SS e médico Josef Mengele foi responsável por centenas de experimentos pseudocientíficos no complexo de Auschwitz-Birkenau. Passou por diversos países sulamericanos até chegar ao Brasil, nos anos 1950, vivendo sob documentos falsos ou de outras pessoas. Em 1985, confirmou-se que o corpo de uma pessoa afogada em uma praia de Bertioga, em São Paulo, seis anos antes, era de Mengele – corroborado, anos depois, por um teste de DNA.
Franz Stangl havia sido parte da Aktion T4 (vide pergunta 24) e comandante dos campos de extermíno de Sobibor e Treblinka. Em 1951, chegou ao Brasil, onde viria a trabalhar para a empresa Volkswagen na vigilância de trabalhadores, inclusive durante a Ditadura Militar. Seu ex-colega de Sobibor, Gustav Wagner, também chegou ao Brasil nos anos 1950. Graças à atuação de Simon Wiesenthal e de outras pessoas, inclusive sobreviventes do Holocausto, eles foram localizados, respectivamente, em 1967 e 1978. Stangl foi extraditado e julgado na Alemanha. Wagner não foi extradidato e morreu no Brasil, em 1980.
Para saber mais:
ABAL, Felipe Cittolin. Nazistas no Brasil e Extradição. Curitiba: Juruá, 2014.
GUTERMAN, Marcos. Nazistas entre nós: A trajetória dos oficiais de Hitler depois da guerra. Editora Contexto: São Paulo, 2016.
WALTERS, Guy. Hunting Evil: The Nazi War Criminals Who Escaped and the Quest to Bring Them to Justice. Broadway Books, 2010.
Diversos grupos neonazistas se articulam em fóruns virtuais ou presenciais, pregando – e muitas vezes praticando – o ódio a judeus, negros, estrangeiros, comunidade LGBTQIA+, feministas, pessoas ligadas à esquerda do espectro político e outros alvos, a depender do contexto. Por exemplo, contra indígenas e nordestinos nas regiões sul e sudeste do Brasil, muçulmanos na Europa, latinos nos Estados Unidos etc.
A negação do Holocausto (vide pergunta 57) também é prática comum entre grupos neonazistas, embora não exclusiva deles, pois, na visão desses extremistas, a Shoá seria uma peça de propaganda usada para deslegitimar o nazismo.
Grupos neonazistas se utilizam de uma narrativa ultranacionalista e ganham adeptos, sobretudo alimentando-se do ressentimento de indivíduos que vêem sua posição de poder, tida por eles como natural e/ou merecida, socialmente questionada.
A apologia ao nazismo e o uso de seus símbolos é crime no Brasil e em vários países. Ainda assim, células neonazistas têm se multiplicado nos últimos anos, especialmente com o uso da internet e de suas redes sociais virtuais.
Para saber mais:
DIAS, Adriana Abreu Magalhães. Os anacronautas do teutonismo virtual: uma etnografia do neonazismo na internet. 311 p. Dissertação (mestrado em Antropologia Social). Unicamp, Campinas, 2007.
MILMAN, Luis; VIZENTINI, Paulo Fagundes (orgs). Neonazismo, negacionismo e extremismo político. Porto Alegre: Editora da Universidade (UFRGS); CORAG, 2000.
SALEM, Helena. As tribos do mal: o neonazismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Atual, 1995.
Na visão dos negacionistas, essa invenção ou exagero serviria a algum tipo de interesse (geralmente judaico). Para eles, “desmascarar” o Holocausto serviria para denunciar esses interesses ou para reabilitar o nazismo. Desse modo, o negacionismo da Shoá, tal como ocorre a outros negacionismos, está sempre conectado a teorias conspiratórias e interesses do presente, o que permite aos negacionistas seguirem com suas teses apesar das incontáveis evidências historiográficas que comprovam o Holocausto.
O negacionismo da Shoá surgiu concomitante à mesma, mas ganhou força como movimento a partir de fins dos anos 1970. Os negacionistas frequentemente se apresentam como revisionistas; essa denominação, no entanto, não passa de um artificío retórico, pois a negação do genocídio perpetrado pelos nazistas em nada se assemelha com a revisão histórica, esta uma prática usual do trabalho de historiadores e historiadoras.
Em vários países, a negação do Holocausto é criminalizada. No Brasil, embora ainda não exista uma legislação específica proibindo o negacionismo, a justiça já condenou negadores da Shoá por crime de racismo - caso dos crimes cometidos por Siegfried Ellwanger e julgados pelo STF em 2003.
Para saber mais:
MILMAN, Luis; VIZENTINI, Paulo Fagundes (orgs). Neonazismo, negacionismo e extremismo político. Porto Alegre: Editora da Universidade (UFRGS); CORAG, 2000.
MORAES, Luis Edmundo de Souza. Negacionismo: a extrema-direita e a negação da política de extermínio nazista. Boletim do tempo presente, n. 4, pp. 1-22, 2013.
VIDAL-NAQUET, Pierre. Os assassinos da memória: um Eichmann de papel e outros ensaios sobre o revisionismo. Campinas: Papirus, 1988.
O Yad Vashem – Museu do Holocausto de Jerusalém, Israel – mantém uma base de dados cujo objetivo é obter os nomes e o máximo de informação de todos os judeus assassinados durante Holocausto. Até o momento, mais de 4,8 milhões de vítimas estão registradas pelas mais diversas fontes, incluindo familiares que preenchem fichas específicas.
O United States Holocaust Memorial Museum, em Washington, também conta com uma base de dados com milhões de registros de fontes cruzadas. O banco permite acessar informações da pessoa, bem como documentação produzida pelos perpetradores. Já o site de genealogia judaica Jewishgen, filiado ao Museum of Jewish Heritage, de Nova York, também possui uma base de dados específica sobre vítimas do Holocausto, com quase três milhões de entradas.
No Brasil, inciativas como o arquivo virtual ArqShoah, ligado ao LEER - Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da USP, traz ao público trajetórias de sobreviventes, sobretudo ligadas ao Brasil. Iniciativas regionais também possuem destaque, como o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, em Porto Alegre; o Instituto Histórico Israelita Mineiro e o Instituto Cultural Judaico Brasileiro Bernardo Schulman, em Curitiba.
O Museu do Holocausto de Curitiba possui um banco de dados que busca catalogar o maior número de sobreviventes do Holocausto que vieram para o Brasil, com uma vasta quantidade de dados. Até meados de 2021, o sistema já continha informações de mais de 2.400 sobreviventes e estará disponível para pesquisadores em plataforma online, numa parceria com o Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro.
Para saber mais:
Arolsen Archieves - https://collections.arolsen-archives.org/en/search/
ArqShoah - https://www.arqshoah.com/
Holocaust Survivors and Victims Database – USHMM https://www.ushmm.org/online/hsv/person_advance_search.php
JewishGen's Holocaust Database - https://www.jewishgen.org/databases/holocaust/
The Central Database of Shoah Victims' Names – Yad Vashem - https://yvng.yadvashem.org/
Antes disso, diversos países já haviam instituído dias de lembrança do Holocausto, seja nessa mesma data ou em outras. Além do 27 de janeiro, a principal data de memória e recordação do Holocausto é marcada no calendário judaico no dia 27 do mês de Nissan – entre abril e maio do calendário gregoriano. Ela é lembrada principalmente em Israel e nas comunidades judaicas pelo mundo como Yom HaZikaron laShoah ve-laGvura (dia da lembrança da Shoá e do heroísmo). A data remete ao Levante do gueto de Varsóvia, em 1943 (vide pergunta 37).
Alguns países mantêm outras datas específicas de lembrança do Holocausto. Na Áustria, o 5 de maio, data da liberação do campo de concentração de Mauthausen. Na França, o 16 de julho, em memória às vítimas da rafle du Vel d'hiv, o maior aprisionamento em massa de judeus realizado na França durante a 2ª Guerra Mundial. Na Bulgária, o 10 de março, dia da revogação do plano de expulsão da população judaica do país.
O Porrajmos, o genocídio dos povos ciganos roma e sinti cometido pelo regime nazista, pode ser lembrado também em 27 de janero – no entanto, muitos lugares possuem uma data de memória específica: o 2 de agosto, em referência ao dia, em 1944, de liquidação da ala cigana do complexo de extermínio de Auschwitz.
Esses aspectos que possibilitaram que a Shoá ocorresse não são, no entanto, exclusivos daquela época e lugar. O Holocausto foi uma combinação singular de elementos, infelizmente banais e, justamente por isso, nenhuma sociedade ou indivíduo está imune a eles. Nesse sentido, se para a Shoá é possível estabelecer uma data de término (vide pergunta 3), a continuidade desses elementos possibilitadores de um genocídio – mesmo que não combinados – apresenta preocupante continuidade, independente de quem ocupe o papel de perpetrador, de observador ou de vítima.
Assim, lembrar a Shoá nos dias de hoje é uma ferramenta importantíssima para o combate à intolerância (seja racial, política, religiosa, de gênero ou orientação sexual etc), a defesa da democracia, dos direitos humanos e da pluralidade. Se a permanência desses fenômenos na contemporaneidade não significa que estejamos diante de um novo Holocausto, é certo afirmar que o Holocausto foi possibilitado por processos como estes.
Para saber mais:
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
EHRLICH, Michel. Filhos da Shoah: memórias e significações na comunidade judaica paranaense do pós-guerra. 246 p. Dissertação (mestrado em História). UFPR, Curitiba, 2020.
REISS, Carlos. Luz sobre o caos: educação e memória do holocausto. Rio de Janeiro: Imprimatur, 2018.